Teresa Trautman constrói drama pessoal sobre a liberdade
Lançado em 1973, Os Homens Que Eu Tive (1973) ficou apenas seis semanas em cartaz. O longa de Teresa Trautman foi censurado pela ditadura militar e liberado somente em 1980 com o título Os Homens e Eu.
Alinhado a um discurso feminista, a censura considerou a obra uma ameaça moral aos bons costumes, já que sua narrativa envolve temas como o amor livre e a independência sexual da mulher. Mais do que isso, o filme de Trautman é um tratado sobre a individualidade e a liberdade.
Ainda que lidando com temas ideológicos, o filme não faz isso de maneira imposta. Os Homens Que Eu Tive (1973) tira suas proposições de uma construção dramática em que tais tópicos são naturalizados dentro da narrativa.

O longa conta a história de Pity (Darlene Glória), uma carioca montadora de filmes que se envolve com vários homens e nunca está emocionalmente satisfeita. A personagem se encontra só quando possui autonomia completa sobre sua vida. O que gera um conflito entre a independência da solidão e a carência afetiva.
Mesmo sem um teor político ilustrativo ou didático (a personagem não se coloca, exatamente, como uma militante ativa, mas apenas alguém que quer levar sua vida e seguir com sua liberdade) o filme, inevitavelmente, se torna combativo em relação aos papéis de gênero na sociedade, já que funciona como uma delicada história sobre a inadequação. Seu objetivo central não é divulgar um discurso de liberação sexual de maneira óbvia, mas ser fiel à independência de sua protagonista que, justamente por recusar qualquer submissão, se encontra sempre à deriva na sociedade.
O trabalho, inclusive, expõe um certo narcisismo da personagem. Após se envolver com três homens – dois dos quais ela morava na mesma casa – e se encontrar sozinha, Pity revela para um de seus amantes: “Eu preciso sempre de gente que me ame, que me ache maravilhosa”.

Ou seja, apesar de toda a pegada hippie que dialoga com o contexto histórico das décadas de 60 e 70, o filme de Trautman está interessado diretamente em uma individualidade. Uma fragilidade que não coloca sua protagonista numa posição sagrada de heroína ou subvertora perfeita, mas alguém que responde, legitimamente, às suas aspirações diretas como indivíduo. O que está em jogo, acima de tudo, é um drama pessoal muito bem enunciado.
Após a metade do filme, quando Pity, depois de se envolver com três homens que a acompanham até ali, se isola na casa de um amigo, fica clara essa motivação dramática. O filme adquire até mesmo ares rohmerianos numa certa construção entre o que é efêmero (o tempo que passa, a rotina dos espaços) e a desconformidade da protagonista.
Existe um subversão claramente narrativa nesse ponto, já que, após o terceiro ato, quando, tradicionalmente, haveria uma espécie de conflito ou grande redenção, a personagem assimila, através de uma melancólica serenidade, ainda mais a sua solidão e independência.

Diferente de um filme como O Raio Verde (1986) – para continuarmos numa comparação com uma obra de tema semelhante – não existe uma redenção final pelo encontro. Pelo contrário, Pity decide continuar sozinha e ter um filho. Quando perguntada por um dos seus amantes quem é o pai, a protagonista responde, simplesmente, que o filme será dela.
É bastante comum em uma tradição de obras protagonizadas por mulheres que buscam uma independência sexual que, em dado momento, elas tenham um fim trágico. Ou que, de modo ou outro, o mundo se encarregue de castigá-las por seus atos. Os filmes de um diretor como Adrian Lyne ou mesmo Um Sonho de Amor (2009), de Luca Guadagnino, possuem essa relação entre uma liberdade sexual que ao mesmo tempo que é celebrada, sofre inevitáveis e trágicas consequências. Um elemento trágico que pode até ter relações com as características centrais de um gênero com o thriller (especialmente no caso de filmes norte-americanos), mas que inevitavelmente moraliza suas narrativas.
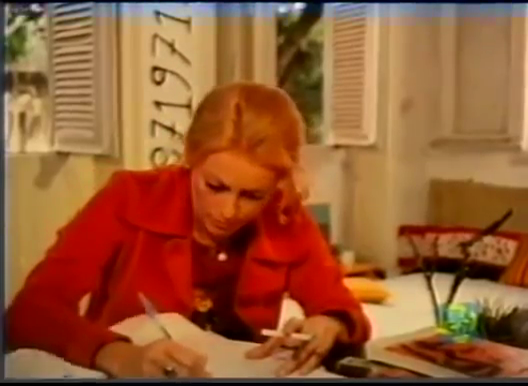
Os Homens Que Eu Tive (1973) é um filme insubmisso em todos os seus sentidos. Propõe uma história de liberdade e individualização sem recorrer a um discurso ideológico coletivista (a personagem não segue um movimento, apenas age por si mesma). Constrói um percurso que recusa uma resolução narrativa de qualquer proporção tradicional (seu terceiro ato é libertador, ainda que calmo e triste e sem grandes redenções ilustrativas). Definitivamente uma das mais grandiosas e particulares obras do nosso cinema.
