Em jornada que preza pelo imediato, Mãe! gamifica sua narrativa.
Nenhuma leitura que tente dar conta dos significados e alegorias de Mãe! (2017) é párea para o arsenal de ilustrações, simbologias e aproximações psicanalíticas que o longa de Darren Aronofsky propõe. O filme, que vem sendo acusado de ser óbvio demais em sua parábola, é, antes de tudo, um emaranhado de referências tão aleatórias que, inevitavelmente, nunca se fecha em um sentido universal.
Mãe! não parece nada interessado em uma unidade referencial – pelo contrário, ao lançar mão de todo um encadeamento de menções em uma lógica de cena obsessivamente ágil, a alegoria se invalida dentro da sua própria heterogeneidade. São tantos símbolos e metáforas, relações que partem de uma tradição bíblica mas que se perdem nessa atualização compulsiva, que buscar qualquer grande verdade, aqui, se torna um exercício inútil e enfadonho.
Sendo assim, um filme que rejeita o significado exclusivo e se foca na ação presente como a única possibilidade de comunicação com seu interlocutor busca o que, exatamente? Uma experiência retilínea, franca tanto em seus intuitos sensoriais como em seu viés de entretenimento.

Em tempos em que até um filme dos Vingadores é burocrático demais com suas resoluções imediatas, Mãe! tem um senso progressivo de cena que encontra justamente na perda de um ponto de referência uma das catarses recreativas mais poderosas do ano. Na falta de um itinerário semântico, Aronofsky não se utiliza da alegoria como um escudo, mas parte de suas imagens e proposições para se entregar a uma contínua e entretiva lógica dessignificante.
Nessa marcha de estímulos diversos e metáforas flutuantes, o filme se transforma em um objeto ambíguo que funciona tanto ao nível da fanfarrice pastiche (a comédia de costumes polanskiana) como de parábola bíblica gibizeira (a caricatura desmedida em suas aproximações arquetípicas). Com isso, constitui-se um jogo de forças muito mais empenhado na desestabilização física do seu espaço e de seus entornos dramatúrgicos do que em se fazer entender didaticamente.
Apesar de toda a contextualização fantasiosa, fica muito claro que o que existe de mais forte no filme de Aronofsky é uma noção de realismo anárquico, de suspense iminente que não quer que seu espectador tenha tempo de assimilar a ordem lógica dos seus acontecimentos, mas construir uma dimensão de delírio onde tudo acontece ao mesmo tempo. O entretenimento não parte de uma pedagogia da percepção, mas busca, na devastação e na reorganização caótica do seu espaço, um ideal gráfico extremo.
O modo como o filme transforma o seu desenrolar em uma experiência subjetiva, centrada na figura de Jennifer Lawrence, acaba concebendo um dispositivo muito particular na relação entre câmera, personagem e espaço. O fora de quadro, esse lugar geralmente reservado ao mistério impercebível no terror e no suspense, é aqui integrado a uma dinâmica afobada que não deixa tempo para o espectador imaginar o que existe para além do olhar da personagem, mas que simplesmente se auto evidencia em uma sucessão de acontecimentos contínuos e simultâneos.

A maneira como o diretor constantemente direciona e redireciona sua câmera nesse movimento circular pelo ambiente, nesse contato cíclico com o dispositivo da casa – tudo o que começa parece que nunca termina, mas se preserva como mais um elemento vicioso entre projeção imaginativa e realidade urgente – evidencia o embate entre o que o fora de quadro sugere (alucinação, devaneio, caos concreto) e suas implicações no estado emocional e físico da protagonista.
Essa unidade entre extracampo e os planos de reações de Lawrence é o que conserva não apenas a dialética plástica que uniformiza a experiência subjetiva – coisa que Aronofsky já vem tentando desde Réquiem para um Sonho (2000) mas que só atinge certo sucesso em Cisne Negro (2010) – porém mantém muito viva a aura claustrofóbica do pesadelo doméstico que o filme se insere. Não existe expectativa em relação aos elementos que nos rodeiam em Mãe!, apenas choque.
Essa lógica reativa que reforça o imediato como princípio estimulante visual e dramático, ao mesmo tempo em que assume com todas as letras um lado apelativo para ganhar a atenção do espectador, rejeita qualquer resolução mais determinista da sua ação. É quase impossível prever os próximos passos da narrativa. A obra se transforma em uma experiência não-linear a partir de acontecimentos que desafiam uma estrutura lógica da fisicalidade da cena, nunca por uma relação de idas e vindas no tempo.
Esse desapego pela continuidade direta fundamenta o seu caráter desestabilizador. O que importa não é gerar uma base implacável, mas sim continuar em um percurso de sobrevivência a todo custo. O fato do filme perder muito da sua força no interstício dramático da gravidez da personagem, no intervalo entre os dois principais colapsos narrativos, revela que, na menor das pistas, na menor das entregas mais didáticas, o trabalho foge da sua vocação abstrata natural.

Se no primeiro ato o caos se vinculava pela via do pesadelo doméstico, da submissão da mulher como um mote de passividade reativa, de não-ação justamente pela sua posição na manutenção obsessiva desse ambiente, o ato final transforma esse universo em um ecossistema de alteridade que abandona toda a lógica daquele momento e assume a fantasia como um mote libertador, uma purgação do espaço sobre seus habitantes e, consequentemente, do filme sobre seus possíveis significados.
O isolamento da personagem de Lawrence em relação a essas transformações funciona como uma mediação entre a experiência visual do filme e a alienação do espectador. À medida em que o filme vai se desinstrumentalizando e assumindo essa ordem inconsciente, esse tormento disfuncional que tem gosto em manifestar todo um encadeamento muito concreto (a fantasia, afinal, tem consequências absolutamente materiais), a alegoria se auto anula dentro da sua própria hiperestrutura.
Mãe! se vincula muito mais a uma dinâmica de videogame do que à do cinema narrativo tradicional, a um percurso que começa na manutenção submissa do espaço doméstico no primeiro ato e se transforma em uma luta por sobrevivência em um espaço fabuloso no segundo.
A casa se transfigura nesse jogo de plataforma (literalmente, em vários momentos) em que a protagonista é mais uma jogadora tentando entender aqueles obstáculos ao mesmo tempo em que luta por sua sobrevivência do que uma personagem de profundidade psicológica mais evidente. Todo o itinerário acontece por uma chave espacial, não dramática. A cenografia se constrói e desconstrói à medida em que um novo imaginário é proposto. Simulacros sustentam o percurso como a única experiência possível dentro de uma dimensão que rejeita qualquer lei ontológica.

Gesto que nos remete, principalmente, a uma certa genealogia do cinema de ação que também se foca nessa apropriação estrutural do videogame, tanto em adaptações diretas que assimilam o seu objeto como motivo funcional – Resident Evil 5: Retribuição (2012) -, como em obras que partem de um itinerário narrativo da missão e do trajeto como escopo cíclico: Lucy (2014), No Limite do Amanhã (2014), Adrenalina (2006).
São trabalhos que prezam pela multireferência como um ideal hipersignificante, que partem do gênero mais como desculpa funcional – e aí poderíamos citar ainda As Panteras Detonando (2003) e Espionagem na Rede (2002) – e se focam na ação presente e contínua como o principal agente de execução da obra, rejeitando uma noção de passado narrativo ou peso psicológico mais evidente em detrimento do entretenimento ou de qualquer outro elemento sensorial norteador.
O filme de Aronofsky, ao intuir essa lógica da subjetivação do espectador em relação à personagem/jogadora – que ali ganha uma posição ativa apenas simbólica, já que continua submissa às arbitrariedades do filme/jogo, às vontades do diretor brincando de Deus – assume o gameplay como mote de um entretenimento que não precisa justificar nenhum obstáculo, apenas tem o prazer sádico de invocá-los na tela quando bem entende.
A diversidade iconográfica desse cinema de gameplay reitera uma não-linearidade à qual o espectador de hoje é constantemente submetido: o imediatismo de uma timeline do Facebook; a efemeridade de um vídeo no Youtube assistido pela metade; as pausas de um filme ou série no Netflix assistido ao longo de diferentes períodos. Tudo isso confere uma dinâmica retalhada de significados que se cancelam, que se sobrepõem em toda a sua variedade, e acabam se transformando em uma mitologia disforme de significações.
Nesse fluxo histriônico, uma imagem aborta a anterior, uma mensagem neutraliza a outra, reduzindo toda a concepção perceptiva do nosso cotidiano a espectros audiovisuais que não buscam uma representação objetiva, mas conferem uma noção de conhecimento esquizofrênico.
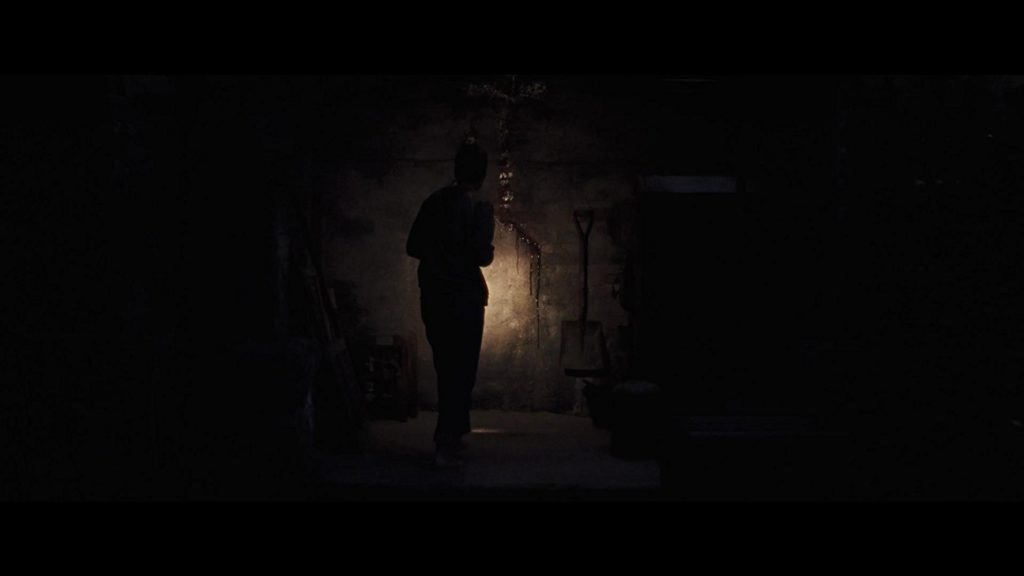
O exagero de Aronofsky é o que trai a sua mania em criar um sentido. Após o lançamento do filme, o diretor pode até construir um discurso complexo sobre as parábolas que o filme trata, mas o abuso da obra por um matiz tão diverso cria essa massa conceitual desmedida. A força de Mãe!, ironicamente, está na incompreensão da sua experiência, na forma como o filme parte de uma livre associação de referências que se intensificam não através de uma ligação alegórica significativa, mas que têm na desorientação o seu atrativo sinestésico.
Ao fim, se por um lado temos um resultado enfadonho quando a última cena do filme tenta fechar todos os acontecimentos dentro de uma chave universal – pelo menos a partir de uma leitura alegórica e bíblica mais limitadora -, por outro temos a confirmação desse dispositivo do gameplay, já que o reset é bastante literal.
A casa se recompõe, a personagem é outra. Uma nova vida, uma nova tentativa. O mito da criação é assumido como percurso narrativo de uma jornada cíclica e inútil cujo único sentido é a perseverança. Os significados estão mortos, a experiência do trajeto é a única lógica possível. Em uma era não-linear e de imaginários ópticos cada vez mais desafiadores, vivenciar o apocalipse é só mais uma simulação recreativa.
Da mesma maneira que se trancam personagens em uma casa de The Sims, conferindo-os todo tipo de sofrimento imaginável, Aronofsky tem em Mãe! a sua casa de bonecas particular. Sádico, recheado de referências esdrúxulas e com todo um arsenal hollywoodiano à sua disposição, o homem se lambuza feito criança.
Publicado originalmente na Revista Cinética em novembro de 2017.
