Diretor reafirma sua abordagem realista em cyberthriller.
A tônica política do cinema de Michael Mann está diretamente ligada à subversão do espaço. A redefinição de um senso de propriedade que expressa um desprezo muito evidente pela domesticação do indivíduo frente um estado totalizador por natureza. Em poucas palavras: o repúdio pela institucionalização do homem.
Profissão: Ladrão (1981) invoca o roubo como uma ação direta contra a mais-valia: um ladrão que se recusa a trabalhar sob uma relação de classe e é constantemente marginalizado por todas as instituições que recorre. Inimigos Públicos (2009) articula uma consciência social de teor ideológico nas ações de John Dillinger. A subversão – ainda que brote do gesto criminoso – transforma a ação de roubar bancos em um ato humanista.

Se Fogo contra Fogo (1995) é um filme sobre o espaço público, sobre a clara subversão desse ambiente através de um constante fogo cruzado nas ruas de Los Angeles onde o possível dano colateral são os próprios civis norte-americanos, Caçador de Assassinos (1986) é um filme sobre o espaço privado, o espaço íntimo, a propriedade em sua fisicalidade mais clara, visto a maneira com que o filme se apropria do gosto do assassino por ambientes domésticos e sua simbólica desconstrução.
Sem falar em Miami Vice (2006), um drama onde os personagens vão sacrificando a própria individualidade em prol da instituição policial, vão sendo absorvidos por um sistema que é intrinsecamente contra o bem-estar do indivíduo e até venera uma objetificação profissional.
Ou seja, o que fica sempre muito evidente, no cinema de Mann, é essa relação entre indivíduo e espaço que opera como a projeção de uma dinâmica complexa entre cidadão e instituição. Sendo assim, a trama de Hacker (2015) concretiza um desejo essencialmente utópico. Um simples cidadão, munido de um computador, é capaz de revirar instituições inteiras, recontextualizar dinâmicas espaciais inimagináveis. Um toque na tecla enter explode um reator nuclear. Um comando em um teclado desestabiliza o mercado financeiro.
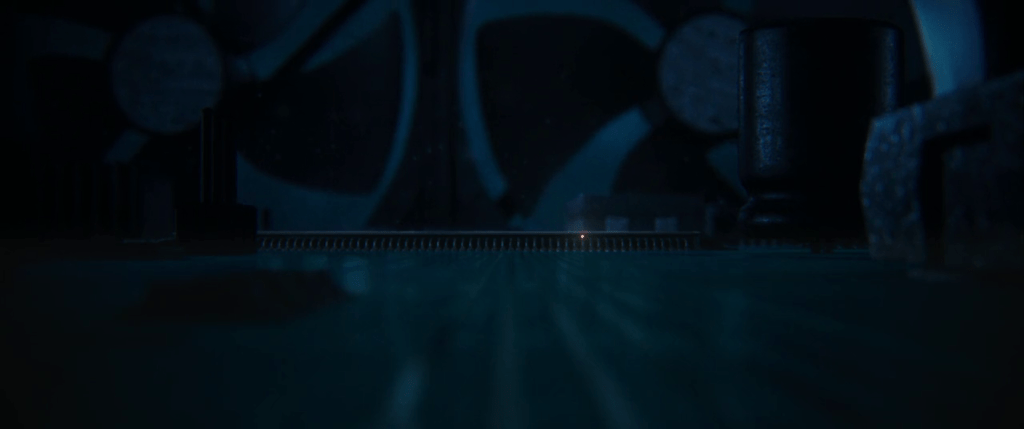
No filme de 2015, mais do que nunca, temos a revanche alegórica e concreta desse indivíduo, agora munido de uma dimensão tecnológica, de um espaço que é virtual e, por isso mesmo, infinitamente possibilitador em sua vocação criminosa.
A própria formação do hacker, mesmo o hacker “do bem”, não faz questão de esconder essa aspiração anti-institucionalizadora. Hathaway, sobre a vida na prisão, afirma: “Eu faço o meu próprio tempo, não as instituições”. Um homem que literalmente se programa, se dedica tanto a mente como ao corpo, sempre em busca de uma independência intelectual, de uma liberdade que, mesmo dentro de uma cela, ele faz questão de usufruir. Quando não pode ler, ele se exercita, enfatizando uma máxima obstinação por esse equilíbrio individual.
Na sequência em que o protagonista ganha a liberdade, no começo do filme, Mann faz questão de filmar seu personagem com closes assimétricos para dar espaço a um horizonte agora visível, concreto para um condenado, porém ainda desfocado, centrado no indivíduo, esse sim a chave daquela configuração.
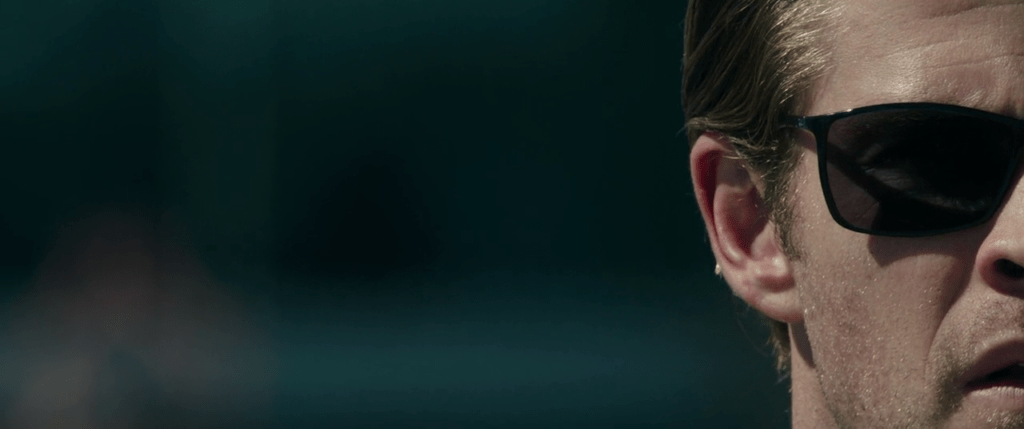
Mas afinal, como filmar esse embate tecnológico? Como mediar esse espaço virtual no espaço propriamente físico do filme? Um cyberthriller, nas mãos de Michael Mann, será tão concreto quanto qualquer outro thriller. Se existe uma dimensão imaterial aqui, ela funciona sempre como o mote de um fisicalidade muito evidente. Ela é geradora de uma dinâmica que se concretiza na dimensão física e característica do diretor: tiroteios realistas, mortes absolutamente aterradoras, uma briga de bar.
Mesmo na tradução desse espaço virtual mais literal, Mann situa muito bem um ambiente realista de data centers e servidores, faz os personagens literalmente caminharem entre corredores de hardwares. Uma iconografia futurista comparável às paisagens urbanas noturnas que descortinam toda uma vastidão luminosa de prédios nas panorâmicas do filme.
O uso do CGI, nas sequências dos ataques virtuais, já denota uma minuciosidade luminosa que se projeta tanto nesse ambiente do hardware, nessa fantasia tecnológica, como no ambiente físico, na encenação em si. O corpo de Chen Lien é iluminado com a mesma minuciosidade que uma luz microscópica se acende em um chip.
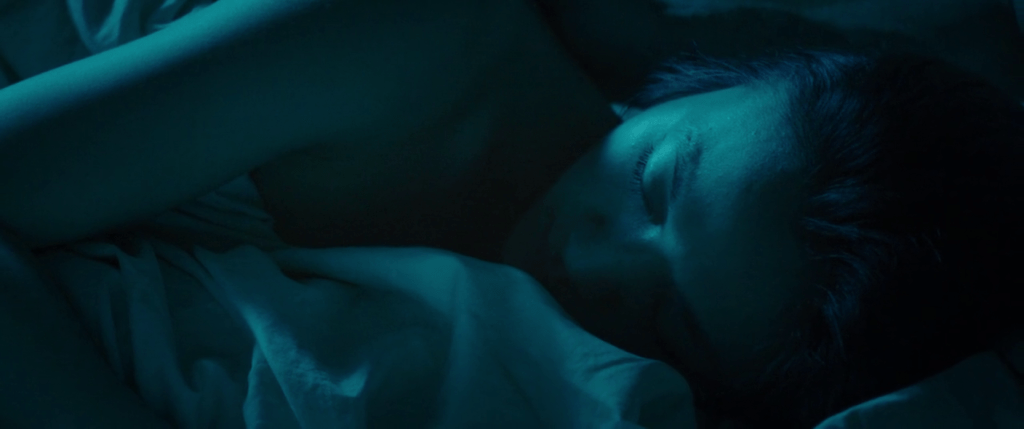
O filme funciona entre uma objetividade técnica – tanto na própria temática como na violência em si – e uma sutileza já implícita em qualquer aproximação, em qualquer relação interpessoal. A mesma mão que, com uma objetividade assustadora, enfia uma chave de fenda na cabeça de um personagem, é a mão que toca um ombro nu, que abraça um outro corpo com ternura.
Os pequenos gestos – do toque no teclado ao toque corporal – geram resultados tão sutis como destruidores. E toda essa sutileza destrutiva denota, paradoxalmente, um processo de humanização. Um cinema de ação onde o personagem não é só uma peça formalista, um elemento gráfico submisso a uma dinâmica delirante, mas um indivíduo em toda a sua natureza.

O close na personagem de Viola Davis, quando seu olhar desvanece ao agonizar na calçada, fitando um edifício, em seu último suspiro, é dos momentos mais poderosos nesse sentido. Aliás, a maneira como os personagens vão morrendo, vão sendo deixados para trás, faz surgir uma camada de desolação, todo um peso dramático muito inerente àquela trajetória. O que vai, aos poucos, transformando toda essa sutileza realista em uma iminência digna de um filme de terror.
Dessa relação de proximidade com o corpo, desse constante embate entre indivíduo e espaço, o digital ainda é uma peça fundamental para Michael Mann exercer uma autonomia cênica, uma liberdade espacial muito cara ao seu cinema. Em tempos de 4K e outras obsessões cristalinas, só Mann para filmar uma briga de bar em que a imagem faz questão de preservar a sua aparência digital, a sua textura chapada. Além, é claro, de invocar toda uma maleabilidade muito inventiva do dispositivo, reiterando toda a sua vocação com o formato, o seu gosto por um realismo que ao mesmo tempo que assume o ruído da imagem e a instabilidade do aparato, articula uma força essencialmente dramática.

Na sequência final, quando Hathaway parte para o embate final com seu rival virtual, o ambiente assume uma pictoriedade característica dessa imagem digital que beira o abstrato. Um jogo de cores onde o vermelho e o amarelo, ao contrastar com o preto da noite e os mil passantes, criam um jogo figurativo quase impalpável, cheio de silhuetas e espectros no limiar da sua materialidade.
O ambiente articula uma nova dimensão onde o concreto se projeta no figurativo e o virtual no abstrato. Uma perspectiva estilística que parte desse impressionismo, dessa confusão épica do olhar, apenas para isolar o mais sutil, e ao mesmo tempo ultra objetivo, dos gestos: a mão que apunhala, o braço que estende a arma. A mais meticulosa distância focal aqui, ao enfatizar a arma e a elementaridade desses gestos, não deixa de evidenciar, sempre, um esmiuçamento vital do quadro cinematográfico.
Essa desestabilização espacial do cinema de Michael Mann funciona tanto a partir de uma agenda política como de uma essência dramática, uma reverência clara a um gênero policial que ele mesmo ajudou a estabelecer. Definitivamente o homem é um dos poucos diretores que sabe articular como ninguém um arsenal de modelos – já mais do que implícitos na natureza desses gêneros – em uma lógica absolutamente contemporânea. Uma fábula criminal que sempre se atualiza e se reinventa tanto em sua temática (Profissão: Ladrão, Fogo contra Fogo e Miami Vice são claras proles de seu tempo histórico, ainda que conservando um anacronismo muito possibilitador), como em seu método. A depuração artesanal de um drama que, muito mais do que enfatizar um realismo, de fato constrói uma mitologia cinematográfica.
Publicado originalmente na Revista Multiplot! em maio de 2015.
